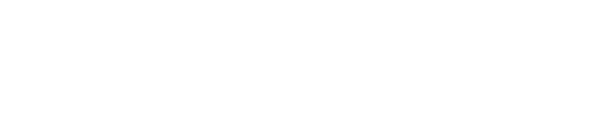Curso analisa as mutações jurídicas ao longo de 30 anos de Constituição

No dia, 10/10, o coordenador científico do curso, desembargador federal Nelton dos Santos destacou a importância do dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, IX da CF/88. “Uma sentença desprovida de fundamentação atenta contra o Estado Democrático de Direito”, declarou o magistrado, “porque o juiz que decide sem expor as razões de seu convencimento é um verdadeiro autoritário”, observou. A motivação existe como uma forma de controlar o exercício do poder jurisdicional.
O palestrante ressaltou que, ao decidir, o juiz, de acordo com a sistemática do CPC de 1973, devia examinar os fatos, a lei, a doutrina e os precedentes. A forma de realizar a fundamentação, segundo ele, veio sendo alterada ao longo dos últimos anos. Ele lembrou que a lei 9756/98 mudou o sistema recursal, instituindo a chamada decisão monocrática em segundo grau (art. 557 do CPC/73), que acabou virando uma maioria, o que gerou um problema: “se sobrelevou a importância da jurisprudência, priorizando a ementa e não os fundamentos”; mostrar as razões do convencimento não só ao vencedor, mas também ao vencido parecia ter perdido o sentido. Na ideia de acelerar o julgamento e de padronizar deu-se origem a um fenômeno que já existia, porém era mais discreto, que era o da falsa ou apenas aparente motivação. Isso gerou uma resistência, uma reclamação política, uma reclamação social. Já a Emenda Constitucional nº 45/2004, criou o CNJ e inaugurou um sistema de vinculação, uma verticalização da jurisprudência, aumentando os poderes dos tribunais superiores, especialmente do STF, e diminuindo o poder dos tribunais de apelação. “Isso ficou muito evidente e é a nossa realidade hoje”, afirmou o desembargador. “Mas isso por si só não nos tirou ou não tirou da sociedade ou da advocacia, primordialmente, a sensação de que nós não fundamentamos ou não fundamentávamos bem as nossas decisões, a ponto de termos um roteiro de fundamentação no CPC/2015, no artigo 489.
O magistrado acresceu que na Justiça Federal, ao contrário da Estadual, se julga muito “no atacado” e não “no varejo”, analisando-se mais a tese e menos o fato. Por exemplo, o palestrante ressalta que, no caso de opção por uma corrente jurisprudencial, é importante que o juiz indique os fundamentos de sua escolha. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa fé. O palestrante finalizou sua intervenção assinalando que hoje os magistrados precisam também pensar nas implicações práticas de sua decisão, segundo o artigo 20 e seguintes da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
O encerramento do curso no dia 11/10, contou com as análises do ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, da desembargadora federal Sylvia Helena de Figueiredo Steiner, do professor doutor Marcos Augusto Perez e do juiz federal Silvio Ferreira da Rocha.
O tema “mutações em direito penal e processual penal” foi tratado pelo ministro Schietti e pela magistrada Sylvia Steiner. Segundo o ministro, a Constituição de 1988 representou uma ruptura com o período de exceção e provocou mudança de hábitos. Ao longo desses anos, o processo penal sofreu uma série de modificações legislativas importantes, ao passo que o direito penal sofreu modificações jurisprudenciais. No seu entender isso se deu porque “os tribunais superiores constataram que havia uma grande distância entre o direito pensado e o direito praticado”.
De acordo com Schietti, algumas mutações já estavam em andamento e foram aceleradas com a Carta, como a proteção da infância e juventude, dos idosos e da mulher. Ele citou como exemplo a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) que vem construindo uma jurisprudência bem sólida para os casos de violência doméstica. A partir de 2014, o STF entendeu que os casos de violência doméstica deveriam constituir crimes de ação penal pública.
Outra modificação legislativa mais recente é a lei nº 13.718/2018, que alterou os crimes contra a dignidade sexual e tipifica os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro. Segundo Schietti, as alterações da lei quase sempre decorrem de fatos que chocam a opinião pública e que movem o legislador a agir provocado pelas mudanças sociais.
O ministro destacou também a lei 13654/2018, na qual o legislador optou por considerar que o crime de roubo com arma de fogo deve ser mais severamente punido que o roubo cometido com outro tipo de arma. Em sua opinião, “o legislador foi sábio, pois um revólver é mais letal que um canivete”. Segundo ele, há uma maciça quantidade de armas no Brasil. Prova disso é que o país é responsável por cerca de 10% de todos os homicídios cometidos no mundo.
O ministro fez uma breve análise de outras alterações legislativas que introduziram a simplificação de alguns procedimentos e representaram um avanço. Ao fazer um balanço do direito brasileiro de 30 anos atrás e de hoje ele acredita que do ponto de vista normativo, houve uma evolução. “Algumas leis foram tímidas, outras foram mais avançadas que nossa realidade permitia. Creio que houve significativos avanços por conta da nova ordem constitucional que nos impõe um comportamento diferente no dia a dia”, concluiu.
Em seguida, a desembargadora federal Sylvia Steiner, que também foi juíza da Corte Penal Internacional, lembrou este é um ano de muitas comemorações: 20 anos do Tribunal Penal Internacional; 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem que juntamente com a Carta das Nações Unidas estabeleceu como prioridade a proteção da dignidade da pessoa humana e 30 anos da Constituição Brasileira elaborada após o período da ditadura.
Ao analisar as mudanças decorrentes da Constituição de 1988, a magistrada destacou o artigo 127 da Carta, que definiu as funções do Ministério Público como responsável pela defesa da ordem pública, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Segundo Steiner, ao mesmo tempo em que se alarga o rol de direitos e garantias de direitos individuais do art. 5º, agregando novos direitos como o habeas data o mandado de segurança coletivo, a Constituição alterou significativamente o papel do MP.
No campo do direito penal, “o MP viu se compelido a sair da posição passiva que ocupava para passar a exercer o controle externo da atividade policial e com isso ter as rédeas de uma politica criminal do estado brasileiro”. Para Steiner, esse papel ativo aumentou as obrigações do MP, mas também a capacidade de interpretação sobre o que considerar interesse público, interesse difuso, interesse coletivo. A amplificação dos poderes do MP, assim como da atividade judicial teve como consequência a criação de mecanismos de controle: Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho da Magistratura.
“Os grandes avanços da Constituição de 88 em relação ao alargamento do rol de direitos e garantias são inegáveis. Por outro lado, quanto mais extenso o rol garantias e quanto mais poderes e atribuições do MP e do Judiciário, maiores também os riscos de abuso e de ineficiência”. Uma das consequências desse cenário, de acordo com a magistrada, foi o acirramento do ativismo judicial, inclusive do MP, para assegurar direitos previstos na Constituição e não regulamentados pela legislação. O problema, a seu ver, é a criação do precedente. “Nós estamos dispostos a pagar o preço?”. Para essa questão, ela diz não ter resposta, mas acredita que nas relações entre o individuo e o Estado “a depender do juiz pode ter seus direitos garantidos ou não”.
As mutações no direito administrativo foi o tema examinado pelo professor doutor Marcos Augusto Perez e pelo juiz federal Silvio Ferreira da Rocha.
O professor Perez iniciou sua análise com uma provocação: “há um ativismo judicial no Brasil ou o ativismo é da própria Constituição?”. Ele explicou que o direito administrativo fundado em 1988 deixa de ser direito de proteção do Estado e passa a ter seu eixo o cidadão. Foi uma tendência liberalizante que acompanhou os países europeus no pós-guerra.
A Constituição brasileira tem uma densidade em torno das políticas públicas maior que as outras. A previdência, saúde, educação, reforma agrária são políticas públicas já consagradas em termos de princípios no texto constitucional. A agenda está dada pela Constituição. A decisão política foi tomada. No entanto, há um fenômeno que cria o ativismo à brasileira: a não concretização das políticas por parte do Legislativo e da Administração. Os buracos deixados pela legislação não são sanados porque nosso sistema político é frágil. Para regulamentação dessas politicas é necessário eleger interesses prioritários e nem o administrador, nem o legislador elegem as prioridades. Como consequência, a população procura o Judiciário que age no vácuo deixado pelo Congresso Nacional.
Na avaliação do professor, o juiz fica numa situação extremamente difícil porque a Constituição manda fazer e há uma série de indicativos de que não deveria fazer, mas não há uma política pública regulamentada a ponto de decidir com segurança determinada matéria. Ele observa uma contradição na aplicação das políticas públicas por parte da Justiça brasileira. “O STJ em matérias de saúde concede tudo; em matérias de transporte nega tudo”. Para Perez, falta uma moldura legal e administrativa de modo a pautar a atuação do controlador jurisdicional.
Ao analisar os 30 anos da Constituição Federal, o juiz Silvio da Rocha ressaltou o crescimento do Poder Judiciário no controle do exercício da função legislativa e executiva que o levou a ser acusado de ser ativista. Citou como exemplo de ativismo do Judiciário decisões acerca da perda de mandato; a proibição do nepotismo nos outros poderes; ampliação das situações que permitem o aborto; proibição de doação de recursos a partidos políticos por empresas privadas e a eficácia de certos direitos sociais mesmo antes de formulações de politicas públicas. As críticas acusam a Constituição de ter adotado o modelo de Estado intervencionista.
Para Rocha, é importante reconhecer o papel que os direitos fundamentais tiveram na estruturação do nosso sistema jurídico. Decisões sobre garantias não podem esperar o Legislativo. Num estado democrático, há uma colisão entre o princípio da democracia, pautado pela maioria e o papel que os direitos fundamentais exercem numa sociedade democrática. Essa colisão acarreta uma divisão de competências entre o legislador e o Poder Judiciário. Contudo, “o papel contramajoritário do Judiciário é essencial para que se preservem e garantam esses direitos fundamentais”.
Em suma, para o magistrado ao longo desses 30 anos, houve uma atuação positiva do Poder Judiciário que assumiu um papel de centralidade democrática de defesa dos direitos fundamentais e por essa razão, precisou mudar sua técnica de julgamento. Hoje utiliza o método do sopesamento, que trabalha com a ideia de proporcionalidade e de razoabilidade. No entanto, o Judiciário precisa aperfeiçoar a técnica que deve considerar as circunstâncias concretas para que possa ter segurança jurídica e extrair uma regra de aplicação a todos casos, observando o princípio da igualdade.
A mesa de trabalhos contou com a presença da desembargadora federal Therezinha Cazerta, presidente do TRF3, do desembargador federal José Lunardelli, diretor da EMAG e dos juízes federais Bruno César Lorencini e José Carlos Francisco, coordenador do curso.