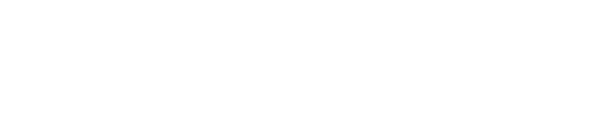Conciliação, ODR e Dispute Board oferecem rapidez na resolução de conflitos

O curso Meios Consensuais na Justiça Federal: onde estamos e para onde vamos? apresentou três painéis em segundo dia (05/09).Os especialistas convidados trataram da conciliação e o interesse público; da resolução de conflitos em plataformas digitais (ODR) e do dispute board, ou comitê de resolução de conflitos, que tem uma atuação preventiva, evitando que desacordos se transformem em demandas formais. A mesa contou com a presença do desembargador federal José Marcos Lunardelli, diretor da EMAG, e dos juízes federais Bruno Takahashi e Herbert de Bruyn Júnior, coordenadores do evento.
O primeiro painel, Interesse Público, conciliação e resistência cultural, aberto pelo professor Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, abordou alguns desafios a que estão sujeitos os procedimentos em conciliação dentro do serviço público. Ele destacou que um dos grandes dilemas é a realização da conciliação quando um dos litigantes é um agente público. Assinalou que é preciso dissociar a ideia de “interesse público” de “interesse fazendário”, buscando transformar um comportamento que é “adversarial” em um comportamento voltado à composição dos litígios, sem convertê-los em litigantes “VIPs”.
Freitas Júnior declarou que isso só será possível por meio de uma articulação “macro” com os grandes órgãos e autoridades públicas, cujo poder é distribuído de maneira muito vertical. “Não adianta pressionar o procurador para uma composição em audiência”, afirmou, “é preciso que as grandes autoridades demandantes do Poder Judiciário ou ‘players’ estabeleçam políticas de entendimento.”
Para o palestrante, o balanço do que foi conquistado em termos de conciliação de 2005 até o momento é bastante favorável. Citou como exemplo: a instituição do prêmio “Conciliar é legal" em 2008; a Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); a criação da lei 13.140/2015, que dispõe sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da Administração Pública; o novo Código de Processo Civil, que imprimiu um olhar mais negocial e menos adversarial à litigância, voltado para a boa fé e a cooperação entre as partes.
Destacou também a resistência de alguns advogados que insistem na aprovação do PLC 80/2018 para conquistar a obrigatoriedade de participação na solução consensual de conflitos, sendo que, de uma maneira geral, não tais profissionais não têm nenhuma capacitação especial. Outro projeto de lei prevê que se crie nas universidades uma disciplina para ensinar conciliação. No entanto, “não há quem detenha expertise suficiente para ministrar tal disciplina, especialmente fora dos grandes centros”.
Na visão do palestrante, estamos vivendo um processo de decantação dessas mudanças legais. A mais recente delas é a reforma trabalhista que instituiu a possibilidade de arbitragem para os empregados que recebem em torno de 11 mil reais. “Este será um laboratório de êxito ou insucesso interessante de observar”, declarou.
Online Dispute Resolution
O segundo painel versou sobre Online Dispute Resolution(ODR) e esteve sob a responsabilidade do professor Eduardo Machado Dias, do Instituto Brasiliense de Direito Público, e do juiz federal Raul Mariano Júnior.
Eduardo Dias esclareceu que ODR nada mais é do que o uso da tecnologia aplicada aos meios consensuais de solução de conflitos, buscando aproximar pessoas e empresas. Essa modalidade gera economia de despesas com deslocamentos e com a movimentação da máquina judiciária, além de permitir a solução de problemas em escala. Traz como vantagens adicionais a acessibilidade e a celeridade.
O palestrante citou o caso da empresa de comércio eletrônico eBay que se deparou com um enorme volume de conflitos envolvendo pequenas quantias que não compensavam ser levadas ao Judiciário. A empresa desenvolveu mecanismos para resolver conflitos no ambiente on-line. Depois de alguns erros e acertos, a plataforma de ODR criada para o eBay, em um único ano, resolveu 60 milhões de conflitos.
De acordo com o palestrante, a União Europeia tem incentivado a resolução de conflitos on-line, inclusive para empresas que oferecem e-commerce. Segundo Dias, a negociação e a conciliação on-line foram testadas pela primeira vez no Brasil em 2015 e vem avançando desde então. Ele citou casos de repercussão nacional como a recuperação judicial da Oi, que foi um processo extremamente complexo, com cerca de 30 mil credores. Muitos clientes da empresa fizeram conciliação por meio de uma plataforma on-line, para chegar a um consenso sobre valores de indenização. Posteriormente esses acordos foram homologados. Também mencionou uma ação, no âmbito do STF, em que se julgavam perdas consideráveis dos poupadores durante os planos econômicos. Esse tema foi remetido para a câmara de conciliação da AGU e, após uma conciliação presencial entre entidades representantes dos credores e dos bancos, chegou–se a um acordo homologado pelo Tribunal. Havia ainda o desafio de conseguir a adesão de cada um dos poupadores. Para isso foi desenvolvida uma plataforma on-line onde as pessoas pudessem verificar os termos do acordo, os documentos, e aderir ou não.
O palestrante acrescentou que no Brasil já existem diversos modelos de ODR: simplificados ou escalonados, para conflitos on-line ou off-line, judiciais ou extrajudiciais. Citou também algumas plataformas públicas de resolução de conflitos aqui no Brasil, tais como o Mediação on-line, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para evitar que qualquer tipo de conflito resulte numa ação judicial; existe também o Consumidor.gov, do Ministério da Justiça.
“Já existe amparo para todas essas práticas, mas é preciso efetivar esse marco legal” declarou Eduardo Dias. Ele lembrou que existem vários dispositivos tanto no novo CPC, quanto na Lei de Mediação que incentivam e autorizam a negociação, a mediação e a conciliação on-line. O parágrafo 7º, do artigo 334 do novo CPC diz que a audiência de conciliação ou mediação pode realizar-se por meio eletrônico nos termos da lei. O artigo 46 da Lei de Mediação vai no mesmo sentido. O grande desafio hoje não é a falta de regulamentação, mas sim racionalizar tudo isso. O importante é ofertar para as partes vários métodos de solução de conflitos, a exemplo do “sistema multiportas” dos Estados Unidos, do qual o novo CPC é um embrião no Brasil.
O professor lançou ainda algumas questões para reflexão acerca do futuro: Como usar inteligência artificial para resolver disputas on-line? Haverá substituição de mediadores por robôs? A tecnologia será apenas um facilitador ou um substituto de pessoas? Já existem máquinas que identificam sentimentos e mentiras dos usuários: como utilizar isso a nosso favor? E se o acordo on-line for descumprido? Podemos ir ao Poder Judiciário?
O juiz federal Raul Mariano Júnior abriu sua intervenção dizendo que não existe solução mágica para o problema dos conflitos e que ODR é um termo genérico que exprime diversas realidades. Ele assinalou que no Brasil há falta de informação estruturada sobre o assunto. O grau de dependência da tecnologia e da influência do ser humano depende do tipo de demanda que está sendo analisada.
O que determinou a procura pela ODR foi a própria evolução da sociedade e da economia. “O modelo de uma ação judicial que leva dez anos para se resolver, contemplando todas as partes e fatores está vencido e novas soluções precisam ser desenhadas”. O palestrante destacou que a plataforma do eBay é referenciada como exemplo em vários artigos científicos que tratam do assunto. “Sessenta milhões de conflitos é muito conflito”, assinalou o juiz, “se a gente analisar o ‘Justiça em Números’, o Brasil teve no ano passado 29,6 milhões de processos. O eBay teve o dobro disso. A complexidade dos conflitos é menor, mas a transnacionalidade é um complicador”.
O magistrado citou o exemplo dos Juizados Especiais Federais como quebra de paradigma. “O modelo inovador da 3ª Região, que usa a tecnologia para resolver conflitos, é um divisor de águas dentro do Poder Judiciário, que, ainda hoje, funciona e é eficiente”.
Outras soluções como videoconferência, plenário virtual, audiências on-line, gravação de audiência, teleaudiência e demais usos da tecnologia para facilitar a tramitação de processos ou a solução de conflitos são exemplos de ODR. O PJ-e tem alguns componentes de inteligência artificial, mas não em toda a extensão; mesmo assim, ele otimiza e automatiza processos.
O magistrado mencionou ainda o Projeto Vítor, que está sendo desenvolvido no STJ com o apoio da UNB. Esse projeto, baseado na inteligência artificial da IBM (Watson), vai otimizar o processamento dos recursos extraordinários que chegam àquele Tribunal. O sistema vai comparar o conteúdo das questões trazidas à Corte com os precedentes e com a jurisprudência. Será possível gerar estatísticas e propiciar decisões construídas de forma mais coletiva, ou agrupadas, tudo isso otimizando o tempo para a repetição ou rejeição de um acordo num tempo muito menor do que acontece hoje.
A ODR traz algumas complexidades em relação ao direito que talvez tenhamos que discutir, na opinião de Mariano. A primeira delas é o direito aplicável tendo em vista a transnacionalidade. A base de processamento de um modelo de inteligência artificial pode estar na China, na Coreia, em Hong Kong, no Brasil. De quem seria responsabilidade pelas decisões produzidas com inteligência artificial? De quem produziu a ferramenta, de quem programou a ferramenta, ou de quem usou a ferramenta? São coisas que vão acabar aparecendo no nosso dia a dia.
A sociedade evoluiu, os conflitos evoluíram e a forma de tratar os conflitos terá que evoluir também. “Não vamos conseguir tratar essa pletora de situações conflituosas usando as mesmas ferramentas que conhecemos”, observou o magistrado.
Questões relacionadas à neutralidade, confiabilidade, imparcialidade e à ética na utilização do sistema da inteligência artificial são especialmente desafiantes. Um exemplo bastante utilizado é o do carro autônomo, dotado de inteligência artificial. Numa situação de perigo, o nosso instinto pode nos orientar a tomar uma decisão instantânea, que talvez não consigamos nem premeditar qual seria. Mas e a máquina? O fabricante do carro, o programador do sistema deve ter colocado ali na inteligência artificial alguns valores e decisões que o carro previamente já saberia. A máquina aprende aquilo que o ser humano ensina. E se o carro atropela a multidão, de quem será a responsabilidade? É de quem fez o sistema? É de quem construiu o carro? É de quem ensinou o sistema a pensar? É de quem comprou o carro? Como seria o seguro de um carro como esse? Como esse seguro impactaria a economia?
Todas essas questões, na visão do palestrante, levam a pensar em que o processo judicial continua sendo importante, mas não como uma solução que serve para tudo. Devemos, “repensar o sistema de Justiça, incorporando a tecnologia, mas lembrando das pessoas, tendo o humano como filtro da tecnologia”, concluiu o juiz.
Dispute Board na Administração Pública
O terceiro painel do dia contou com a presença dos professores Ricardo Medina e Augusto Barros de Figueiredo e Silva Neto, que discutiram sobre Dispute Board naAdministração Pública Federal.
Dispute Boards (DBs), esclarece Ricardo Medina, são métodos alternativos de solução de disputas fora da jurisdição estatal, isto é, fora do Poder Judiciário. Trata-se um comitê formado por três pessoas eleitas pelas partes no início de uma contratação. Os membros do comitê conversam com as partes e, por serem técnicos extremamente qualificados, conhecem muito bem os problemas relacionados ao contrato. E tão logo surge uma disputa, podem ser imediatamente acionados para dar uma solução ao problema, por meio de uma recomendação, ou decisão. Os Dispute Boards também têm um caráter preventivo dessas disputas que podem até se dissolver antes mesmo do dispute board ser acionado.
Historicamente, o DB foi desenhado por engenheiros em grandes obras para evitar ter que recorrer a advogados, bem como evitar a ir a juízo. Tratava-se, no início, de um comitê quase que consultivo. Surgiu nos anos 70, por ocasião da construção do Túnel Eisenhower, no Colorado (EUA). “Não existe obra sem disputa”, observou o palestrante “os conflitos são da natureza da construção civil”.
Posteriormente, a Federação Internacional de Construção (FIDIC- Federação Internacional de Ingénieurs Conseils) desenvolveu modelos de contratos, com cláusulas e condições gerais e específicas. A parte específica pode derrogar algo que esteja na parte geral e estabelecer novas regras. As cláusulas podem conter alternativas ao Judiciário local, talvez até arbitragem. Esse método se antecipa à jurisdição. Por que ele é interessante? Porque são contratos formados por engenheiros do mundo todo e quando investidores tem que ir para países em desenvolvimento, sem um bom conhecimento prévio da jurisdição local, querendo ter um pouco mais de segurança na contratação, adotam esses modelos de contrato contendo Dispute Boards (DBs). Alguns bancos, como o BID, chegam a condicionar seus empréstimos financeiros à utilização dessa ferramenta, porque permite que a obra tenha sequência, sem maiores interrupções.
Augusto Barros relata que “no Brasil os contratos FIDIC chegaram com o financiamento da Linha Amarela [do metrô de São Paulo]”, e acrescentou que “é importante notar o potencial do Brasil para utilizar os DBs se pensarmos no atraso de grandes obras de infraestrutura. Se o ritmo de desenvolvimento do país tivesse ocorrido na forma esperada, talvez tivéssemos desenvolvido esse assunto até de uma maneira mais significativa”.
A grande vantagem do DB é que a obra seja executada sem a acumulação de pleitos, especialmente quando se trata de obras públicas, para que o investimento público seja feito de maneira equilibrada e precisa, sem extrapolações, declarou Medina. Em geral, uma solução no DB sai em 90 dias. Um exemplo é o canal do Panamá que teve 10 questionamentos na obra que foram levados à arbitragem; em razão da atuação do DB, a obra acabou no prazo e no preço contratados.
De acordo com Augusto Barros, “a grande beleza do board é a flexibilidade”. Uma das grandes vantagens do DB é que as partes dizem como ele vai atuar: há regulamentos contratuais, normas procedimentais, para que seja dada cadência ao trabalho de board. Mas, à medida que o mercado vai dominando a técnica, a liberdade de dispor regras sobre como o board vai trabalhar em prol do contrato é total. É um método, aliás o único, que tem a oportunidade de trabalhar em tempo real, no acompanhamento do contrato e dos problemas que ali podem surgir. No melhor formato, ele pode ser permanente, as partes podem indicar seus especialistas de forma consensual – e nisso o método difere enormemente de outros – no momento em que se escolhe o suporte para prevenção e resolução de disputas, as partes tendem a escolher o que existe de melhor para o seu contrato. No Brasil, tem se adotado mais o modelo ad hoc, para os Dispute Boards, isto é, para questões pontuais, de forma não permanente.
Um exemplo prático de DB adotado em obra pública no Brasil é a linha 4 do metrô de São Paulo. Desde que foi instalado o DB, as partes levaram a ele oito pleitos para resolver. Seis deles foram resolvidos na audiência inicial, apenas no diálogo, sem decisão, sem recomendação. Apenas dois pleitos seguiram pendentes.
Surgiram alguns questionamentos sobre o possível conluio entre a Administração Pública e os membros do DB. Para evitar tal situação foi levantada a possibilidade de o Legislativo indicar um dos membros do DB em nome da Administração Pública. No entanto, na visão dos especialistas, o ideal é que o DB seja composto apenas por membros completamente afastados dos interesses do empreendimento público.
Outra questão que se coloca na Administração Pública é se a contratação de um DB exigiria licitação. Na opinião de alguns especialistas, o DB não é um serviço, mas sim o exercício de um múnus, dispensando a licitação.
A decisão do DB não é como uma sentença judicial; ela apenas vincula as partes contratualmente. As partes são obrigadas a executar a obra prevista no contrato conforme a decisão do DB. Se uma delas não concordar terá que recorrer à arbitragem ou ao Judiciário.
Por fim, o palestrante concluiu que a transparência é inerente ao funcionamento do DB, inclusive em termos de preservação do interesse público.
Redação: Andrea Moraes
Revisão: Clarice Michielan