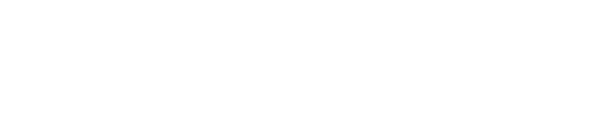HISTÓRIA DA MÚSICA BRASILEIRA REVELA MUDANÇA DA MULHER NA SOCIEDADE

A EMAG, buscando estimular a reflexão e o debate sobre a situação da mulher dentro do sistema de Justiça, em suas conexões com a sociedade em geral, realizou a oficina Música, substantivo feminino dentro do evento Justiça, Gênero e Arte, no dia 22/8. A oficina foi idealizada pela desembargadora federal Inês Virgínia Prado Soares e pela juíza federal Laís Leite, tendo sido coordenada pelo juiz federal Renato Barth Pires. O objetivo é promover a formação integral de magistrados e magistradas.
A primeira palestrante da oficina foi a pesquisadora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Ana Carolina Murgel, também violonista e cantora. Ela realizou seu pós-doutorado com a pesquisa “Cartografias da Canção Feminina: Compositoras brasileiras no século XX”, sob a supervisão de Margareth Rago, referência em estudos de gênero.
Ana Carolina discorreu em sua exposição, entremeada com trechos de canções compostas e interpretadas por mulheres, sobre a posição de cantoras e compositoras no cenário musical brasileiro no século XX, tentando responder à indagação sobre se há realmente uma menor atividade das mulheres na canção popular ou se a escassa presença feminina nesse nicho de atuação seria uma expressão de machismo.
A palestrante citou Virgínia Woolf, em seu clássico texto “Um teto todo seu”, para assinalar que comentários depreciativos sobre mulheres artistas, especialmente na música, parece ser uma estratégia de “invizibilização” do gênero feminino. Seu levantamento, que envolveu mais de 7 mil compositoras brasileiras nos séculos XX e XXI, revela que os nomes das mulheres não apareciam nos registros autorais musicais para que elas não fossem alvo de reprovação social, sofrendo retaliações. “Mulher tinha que ser reservada”, observou a pesquisadora. O espaço público pertencia ao homem e à mulher vivia confinada ao espaço privado, ao cuidado com o lar e com os filhos. A mulher pública, mesmo quando artista ou cantora, corria o risco de ser tida como prostituta. “A glória da mulher era não ser falada”, lembrou Murgel, citando o estadista grego Péricles. E ainda recorrendo a Woolf, afirmou “sempre que procuro um autor e leio ‘anônimo’, penso em uma mulher”.
Murgel trouxe alguns exemplos de “invizibilização”: o costume de as mulheres assinarem suas criações somente com as letras iniciais de seus nomes, ou o hábito de adotarem pseudônimos masculinos. A compositora Dolores Duran chegou a assinar peças de sua autoria como “Durando”. Já a canção “Uma vida só (Pare de tomar a pílula)”, censurada durante o regime militar e interpretada por Odair José, foi escrita por Ana Maria Siqueira Iório, uma informação pouco conhecida pelo grande público. No entanto, muitos se lembram da música na interpretação de Odair José. Algumas compositoras assinavam simplesmente como “uma niteroiense” ou algo do tipo, ao lado de parceiros artísticos masculinos, que não escondiam seus nomes.
“Há uma grande quantidade de músicas de autoria feminina colocada nos discos que quando vão para o ECAD estão sem autoria”, declarou Murgel. Trata-se de uma situação que contribui para o apagamento ou o silenciamento de compositoras mulheres. Murgel observa que se pedirmos para alguém citar o nome de pelo menos cinco compositoras brasileiras, poucos se lembrarão de outra além de Chiquinha Gonzaga. “Dora Vasconcelos (1911-1973), por exemplo, foi embaixadora do Brasil nos Estados Unidos e levou a Bossa Nova para lá”, lembrou Murgel, referindo-se à poetisa e letrista de Villa-Lobos. Já Inezita Barroso (1925-2015), uma das artistas que mais trabalharam pela música brasileira, tem um disco gravado só com músicas compostas por mulheres. Almira Castilho (1924-2011), casada com Jackson do Pandeiro, compôs uma canção precursora da tropicália, gravada por Gal Costa em 1958, chamada “Chiclete com banana”.
Outro dado curioso revelado pela pesquisa de Murgel é o fato de que, no Brasil, a história do Rock é quase toda feita por mulheres. A primeira gravação feita no país é de Nora Ney, na década de 50. Depois dela vieram Celly Campello, nos anos 60; Martinha e Wanderléa, pouco tempo após; Rita Lee nos anos 70 e Marina Lima no final da mesma década.
A imagem das mulheres nas letras escritas e interpretadas por homens também foi objeto de observação na pesquisa de Murgel, que salientou a conhecida dicotomia entre “vagabundas” e “santas”.
Universo do Funk
O segundo palestrante da tarde, Danilo Cymrot, doutor em Direito, é autor da pesquisa de mestrado “A criminalização do funk sob a perspectiva da teoria crítica” e de doutorado “Polícia Militante: deputados policiais militares na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo”. Atualmente é pesquisador do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc/SP e do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, onde desenvolve pesquisas sobre Gestão Cultural, Estudos Culturais e Sociologia da Cultura, e Qualidade da Democracia. É poeta, cantor e compositor.
Cymrot discorreu sobre o “gendrado” (predominantemente masculino) universo do Funk, baseado na dissertação de mestrado de Mariana Gomes Caetano, apresentada na Universidade Federal Fluminense (UFF), denominada “My pussy é o poder”. Ele afirmou que até o ano 2000, o Funk era dominado por MCs (denominação que significa mestre de cerimônias e antecede os nomes de cantores de funk) homens e que os primeiros bondes (grupos de amigos que estão sempre juntos) femininos datam dos anos iniciais do século XXI.
Antes do funk feminino, era comum o chamado “funk de corredor” [polonês], em geral masculino e violento, em que homens se reuniam nos bailes para brigar. As mulheres ficavam nos camarotes, enquanto os homens guerreavam. A dança ficava em segundo plano e a violência tinha uma repercussão muito negativa. Então, por uma estratégia da empresária do Funk Verônica Costa, que introduziu coreografias sensuais de mulheres nos bailes no final dos anos 90, o homem passou a ser incentivado a se valorizar não mais pelo comportamento agressivo, mas pela “caça” a mulheres. O funkeiro deixou de ser um “guerreador” para ser um “pegador”.
Nesse momento, começaram a surgir na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, alguns bondes de mulheres que dançavam. Progressivamente, essas mulheres começaram não só a dançar, mas também a cantar. Um dos expoentes desse período foi Tati Quebra-Barraco. O que configurava essa vertente do funk do início dos anos 2000 era o uso de palavrões e expressões consideradas obscenas, com letras em linguagem explícita em que as mulheres cantavam dizendo o que queriam fazer na cama. Esse passou a ser o funk hegemônico cantado por MCs femininas. Daí surgiu o questionamento: seria isso um avanço ou um retrocesso? Reproduziria o machismo e a objetificação da mulher ou não? Ou seria um novo tipo de feminismo? Há quem diga que as mulheres acabam cantando esse tipo de música por uma demanda de mercado. “Deize Tigrona”, informa Cymrot, “uma funkeira que já tentou cantar um tipo de funk mais consciente e mais crítico, afirma que isso não faz sucesso no baile”.
Cymrot assinala o baixo número de empresárias no funk. Assim, quem acaba muitas vezes ditando a carreira dessas MCs femininas são homens. O palestrante também destacou a enorme informalidade presente no funk, em que não se verifica uma cultura de valorização da autoria. Por isso, cogita-se que muitas dessas letras podem ter sido compostas por homens. Tal situação acaba dificultando o trabalho de pesquisa.
Existem críticas feitas por algumas correntes do próprio movimento feminista a esse tipo de manifestação musical: primeiro, a hipersexualização da mulher, colocada como objeto; segundo, grande parte desses funks estimulam a competição entre as mulheres, chegando mesmo a existirem duelos entre mulheres que cantam, uma como a esposa fiel e outra como a amante. São comuns letras em que uma mulher trata a outra como “inimiga” ou “recalcada”.
Por outro lado, há quem questione essas correntes do feminismo que desaprovam o Funk por entender que existe certa arrogância nesse discurso, pois refletiria uma visão autoritária que pretende universalizar o entendimento do que é feminismo, algo questionável porque estaria contrariando a ideia de que não existe um único, mas vários feminismos. O feminismo para uma mulher branca de classe alta pode não ter o mesmo significado que tem para uma mulher negra da periferia. Nesse cenário, as imagens que mulheres negras e periféricas têm sobre o feminismo são ignoradas e invizibilizadas.
Contra essa estigmatização do Funk, há o argumento de que ele seria uma espécie de neofeminismo porque tira a mulher do papel de objeto transformando-a em sujeito, uma vez que lhe permite a expressão daquilo que quer fazer na cama. A mulher teria o direito de exercer livremente a sua sexualidade. Algumas letras falam ainda de violência doméstica.
O tema é bastante controverso. Danilo Cymrot lembrou a todos que, seja feminista ou sexista, o Funk já foi alvo da polícia e do Judiciário, inclusive acusado de fazer apologia ao sexo indiscriminado e à pedofilia e ao estupro. É comum haver duas versões de letras de Funk, uma “proibidona”, para tocar nos bailes, e outra “light”, para circular na mídia.
As mulheres funkeiras não se vitimizam. É comum revidarem as investidas machistas nas letras das canções adotando uma postura contundente, por exemplo, atacando a virilidade dos homens. O feminismo transexual também está utilizando o Funk para combater a invisibilidade, como no caso da MC Xuxu.
O Funk também não é um movimento coeso. Há conflitos, como há no movimento feminista.
Uma questão que incomodou a plateia do evento, composta por magistrados e alguns funcionários do Judiciário, é: como reagir frente a este panorama? E algumas conclusões puderam ser esboçadas nas falas dos participantes, entre referências a Bakhtin, Foucault e Butler.
Uma delas é que já é possível questionar a rigidez das identidades, inclusive de gênero: “Se eu não me encaixo no ‘homem’ ou na ‘mulher’, eu posso ser o que eu quiser. Então eu não ‘sou’, eu ‘estou’”, declarou Murgel. Já Cymrot afirma que a utopia nesse terreno seria chegar ao apagamento total das identidades de gênero. Por outro lado, os movimentos não podem excluir o debate, mas devem ter o cuidado de não resvalar na intolerância, propagando os discursos de ódio.
No terreno jurídico, foi lembrado que conceitos como “apologia ao crime”; “paz pública” e “dignidade da pessoa humana” ainda carecem de precisão. E que a tendência do aplicador do direito é a de querer moldar o fato social. Ocorre que não é possível ter esse controle de forma absoluta. O pensar jurídico, na intenção de proteger o bem jurídico, no passado já se baseou na censura, mas esta experiência não parece ter dado certo. A arte pode, enquanto manifestação espontânea, nos ajudar a entender o fato social. O Direito pode ajudar a conter eventuais consequências negativas que dele possam emanar, tais como a violência. Contudo, jamais conseguiremos conter o pensamento. Hoje, vivemos a era da informação, porém, por meio da contrainformação, é possível fazer com que o público elabore um juízo crítico.